Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
O podcast desta semana – com José Trajano, Paulo Junior, Leandro Iamin e Matias Pinto – recebeu Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino na CBF, que quis esclarecer apontamentos feitos no Zé no Rádio na semana passada. Há 7 dias, a mesa falou com Emily Lima e tratou da demissão da técnica, além de trazer informações sobre a atual estrutura da seleção brasileira. Vem com a gente!
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

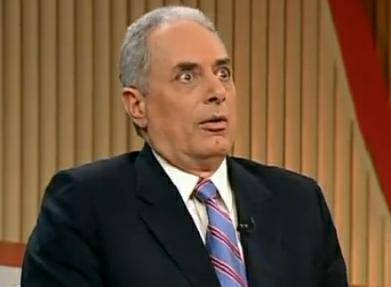
Yuri disse:
A discussão sobre o futebol feminino em ambos os programas foi muito boa ! Isso sim é jornalismo, aliás, a central 3 está de parabéns na cobertura do futebol feminino no programa das Dibradoras e nos demais programas mais jornalísticos !
Caio Dias disse:
“Sempre teve comuputadores na CBF… mas não pra todo mundo” (Cunha, Marco Aurélio)
hahahhahahahhahaha
ridícula a CBF, até parece que nunca teve dinheiro pra nada. Parabéns pela coragem do Leandro, eu confesso que arregaria, mas ele foi firme no ponto dele. Longa vida a Central3 e volta Fernando Toro!
besos
EDUARDO PASSERI disse:
o jornalista que fez perguntas ao marco aurelio cunha , deu para perceber claramente que ele não gosta do mesmo, e no final confirmou minha desconfiança afirmando que não gostava dele , não acredito em jornalista isento , mas na entrevista foi muito escancarada a antipatia pelo entrevistado , li um texto que tem tudo a ver com os jornalistas de hoje e sempre….. boa tarde !!
Homepage
Go to the profile of Carlos Guimarães
Carlos GuimarãesFollow
Jornalista (PUCRS); comentarista esportivo (Rádio Guaíba); mestrando em Comunicação e Informação (UFRGS); especializado em Jornalismo Esportivo (UFRGS).
Aug 21
O episódio Mancini: porque o público vibra quando um jornalista erra
Um novo conflito de poder: como os jornalistas se enxergam e como o público enxerga os jornalistas
O episódio envolvendo o técnico Vagner Mancini e o repórter Felipe Garraffa, da Rádio Bandeirantes de São Paulo levantou novamente a questão de como, em linhas gerais, a chamada opinião pública compra o jornalismo esportivo. Antes de mais nada, cabe ressaltar que este texto não faz um juízo de valor sequer a respeito da atitude de Mancini. Implicitamente, sei que haverá sobre o repórter, até porque o texto é sobre a nossa profissão e sobre como o consumidor enxerga nos tempos atuais o papel do jornalista esportivo. A intenção, no entanto, não é individualizar o tema. O fato estende a discussão para outras questões. Tratar como caso isolado seria mascarar uma leitura que, mesmo sem um procedimento científico apurado, é consenso entre leitores, espectadores e ouvintes de futebol. O objetivo do texto é, portanto, também colocar no paredão o jornalista esportivo. Contudo, também fará uma análise do que, superficialmente, empiricamente e a grosso modo, pensa o consumidor de futebol na imprensa.
O motivo que levou o fato a ter uma notabilidade considerável num final de semana repleto de acontecimentos esportivos foi o equívoco do repórter ao expor os dados da partida. Garraffa apontou que o Vitória teve somente uma finalização e 20% de posse de bola. Os dados corretos eram de 35% de posse de bola para o time baiano e 5 conclusões na partida, conforme figura abaixo:
Números de Corínthians 0 x 1 Vitória (fonte: Footstats)
A figura ilustra um erro do repórter. Prontamente, foi rebatido por Mancini. Logo após o vídeo ser disseminado pelas redes sociais, veio a enxurrada de postagens, publicações, áudios e likes apoiando o treinador, como se ali houvesse uma batalha entre inimigos em trincheiras distintas, no caso Mancini e Garraffa. Este tema foi abordado pelo Alexandre Praetzel em seu blog no Uol.
Advogados erram. Treinadores erram. Mecânicos erram. Médicos erram. Cozinheiros erram. Seres humanos erram. Embora o conceito sobre erro e acerto seja, como boa parte das coisas da vida, uma construção social, há de se ativar o senso comum para que minha hipótese seja exposta. Com isso, parto da seguinte pergunta para abordar o tema: por que o erro de um jornalista gerou tanta felicidade nas redes sociais?
O jornalista por si: porque não gostamos de falar da gente
As primeiras manifestações de colegas após o incidente foram de empatia, solidariedade e apoio ao Felipe Garraffa. Embora em discussões internas o erro tenha sido apontado, não houve um pronunciamento explícito debatendo o fato de que aquela pergunta foi levada ao entrevistado com erros de informação. Volta e meia, quando há um erro jornalístico, pegando a comunidade na qual estou inserido, a dos jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul, não há claramente um debate a respeito. Quando ele chega, é em forma de corneta, ilação ou indireta. Não há uma vontade consistente de discutirmos a profissão em todas suas esferas, sobre nosso modus operandi, as relações empresariais, as linhas editorais, o questionamento dos métodos ou das nossas funções, atribuições e papéis.
Em geral, a atividade do jornalista é idealizada. Filmes como Spotlight ou Todos os Homens do Presidente amplificam esta máxima. De acordo com o senso comum (lembro que, por não ter caráter científico, ficando apenas no mérito opinativo de quem escreve, o senso comum será minha principal referência), o jornalismo é a atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público, ou a segmentos dele, informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação (jornal, revista, rádio, televisão etc.) para difundi-las. Claro que não é só isso. O papel social de ser um mediador da informação ou um elo entre aquilo que é relevante e a recepção pública já são conceitos defasados. Entretanto, ainda é nisto que se apega o jornalista. Nossa função social é a nossa principal proteção.
Entretanto, outros fundamentos se unem a este ethos um tanto, hoje em dia, deslumbrado. O jornalista se cerca de diversos elementos para se proteger. Entre eles, estão os conceitos de neutralidade, isenção e imparcialidade; o papel de vigilância social; o clichê do quarto poder; a soberania do senso de autoridade sobre todas as coisas, ou seja, que basta ser jornalista para analisar toda e qualquer coisa; e, principalmente, o status de se apegar a sua relevância máxima na sociedade da informação pós-moderna. Tais proteções são necessárias para reforçar nossa importância, mas são colocadas em xeque quando confrontadas com a nova era da multi-informação. Um jornalista terá a última palavra sobre um fato (especialmente no jornalismo opinativo) só porque ele é jornalista?
Penso que jornalismo é, sobretudo, técnica. Um conjunto de processos que são aprendidos sob um manancial de teorias e práticas e, posteriormente, aplicados no cotidiano. O conceito básico de fornecedor de informação é questionado no ambiente da rede social. Ali, cada um tem um peso. Entretanto, nem todos têm a mesma responsabilidade. O entendimento profissional faz com que, em tese, o jornalista forneça este serviço com os procedimentos determinados por esta técnica. Porém, quando há a emissão de uma opinião, por mais que se conheça os meandros para formatar este ponto de vista de uma forma comunicável e compreensível para o grande público, ela não é mais definitiva. Os novos rumos da sociedade subverteram esta lógica da última palavra. Uma opinião é, hoje, muito mais interpretativa do que rígida. Daí rebato o termo formador de opinião. Será que uma opinião se forma a partir de um parecer emitido por um jornalista só porque ele é jornalista?
Talvez esteja aí o motivo de não falarmos sobre nós. Estamos em transição. Antigamente, o que um jornalista dizia era um ponto final. Hoje, são reticências, sujeitas a interpretações e divergências. Estamos diante de uma ameaça das nossas proteções. Informada e participativa, a audiência discute nossa neutralidade; questiona nosso status de quarto poder; combate nossa relevância; e, especialmente, põe em turbulência o nosso senso de autoridade sobre todas as coisas. Resumidamente, estão apontando o dedo para o nosso suposto poder.
Falar de nós para nós virou, portanto, um tabu. O debate fica restrito a rodas secretas e às salas de aula de pós-graduação. Mesmo na formação do jornalista, ainda há o discurso ufanista do mediador social. A gente não fala da gente porque estamos ameaçados. Porque há uma perda de credibilidade, outro dos nossos alicerces, uma perda de relevância causada por nós mesmos e, em última instância, uma perda de significado na era da informação. Há a necessidade da reinvenção. Tornamo-nos, mais do que incompreendidos pelo público, desinteressantes para nós mesmos. É a hora de apontar o dedo para o próprio nariz. Mas antes, é preciso entender como o público enxerga os jornalistas.
O jornalista pelo público: porque eles não gostam da gente
Fiz uma enquete informal no Twitter em cima da seguinte pergunta: você acha a imprensa arrogante? A esmagadora maioria apontou que sim. Elenco alguns motivos:
///Em linhas gerais, não. Despreparada, sim. Como a maioria dos profissionais brasileiros de diversas áreas. // Com certeza. E generaliza os torcedores, e fica ofendida Qd dizem “vcs”. O maior problema é a ânsia por furos, clics e manchetes bombasticas // sim, como em todas as profissões, os que tem visibilidade são arrogantes e prepotentes. // Criaram esta imagem perante seus consumidores devido a soberba e prepotência que muitos possuem. // Muito arrogante de forma geral. // Uns 80%. Mas é aquilo, todo mundo uma 1 ou outra é ou tem 1 atitude arrogante. Na imprensa isso é potencializado pelo alcance e pela vaidade // Bastante. O caso do Mancini vs Imprensa paulista é um exemplo disso. Tem jornalista fazendo campanha contra o cara, só porque levou patada.///
Foram mais recados. Somos vistos como arrogantes. A principal queixa é a falta de autocrítica quando erramos. Ao invés de procurar minimizar o erro, preferimos adotar o corporativismo da falsa solidariedade. Aqui, uma nota explicando porque chamo de falso. Antes de mais nada, esta idealização da profissão enquanto função social, armadilha em que caí por muito tempo, é um artifício para fundamentar a profissão. Como em toda e qualquer profissão no mundo capitalista, o jornalista é um fornecedor de serviços à disposição de um sistema que busca o lucro. Ou seja, enxergar uma empresa como componente essencial da sociedade e alimentadora de um bem durável, como a informação, é um erro. As empresas jornalísticas precisam ser vistas como instituições que visam o lucro. Só assim se entende o papel do jornalista, que é um instrumento que viabiliza este lucro, um operário padrão. O capitalismo não distingue as funções operacionais e intelectuais. Por mais que tenhamos tal cunho intelectual, na prática somos operadores do produto que gera lucro para estas empresas. Este produto se bifurca entre informação e opinião, a grosso modo.
O grande problema é a gente acreditar nos mitos criados por nós mesmos. Talvez esta seja a maior formação de opinião para o senso comum que já conseguimos repassar: a de que o jornalista é um estereótipo, idealizado e poderoso. Informação é poder. Com a disseminação das redes sociais, o público passou a ter informação, com um agravante: ele também é capaz de amplificar esta informação, de se tornar relevante através da participação, da interação e, em casos mais bem sucedidos, de formar a opinião de outrem.
Deste tensionamento, vem uma nova disputa de poder. Ameaçados com a perda de uma condição enraizada, a da verdade absoluta, o jornalista se vê vulnerável. O público, outrora passivo e impotente, começou a enxergar pelas frestas dessa vulnerabilidade. Observou, com atenção, os buracos deixados pelas nossas proteções que achávamos que nunca iríamos perder. Descobrimos que não somos protegidos assim, mas a gente finge não acreditar. O público reagiu forte. Aquilo que caberia a nós, a autocrítica, a ressignificação da autoimagem e a construção de novos elementos para nosso ethos não parte mais da gente. A audiência está fazendo isso, discutindo nossas opiniões, nosso senso de autoridade absoluta, nossas informações e, em último caso, até a mais soberana de nossas proteções, a fonte.
Vilões do grande público
Pelos motivos descritos, tornamo-nos vilões. Enquanto o público nos fornece todos os motivos para que sejamos expostos, questionados e contraditos, cá estamos evitando falar sobre a profissão por pura insegurança, apego ou incompreensão. Por isso, o público não gosta da gente. Porque ainda acreditamos ter mais legitimidade sobre um determinado assunto só porque adquirimos determinadas técnicas que nos davam esta autoridade. Digo-vos, portanto, que tal autoridade se pulverizou, se espalhou e vem se dissipando cada vez mais do nosso muro de proteções frágeis. O papel da imprensa precisa ser rediscutido. Mais que isso, nossa relevância. Ou, até mesmo, nossa imagem perante o público.
O que mais me chama atenção é que este movimento vem de fora para dentro. Não há uma autocrítica mais severa por parte de quem deveria tomar a frente. Nem os cursos, nem as faculdades, nem as empresas e muito menos os jornalistas parecem interessados em redefinir nossa imagem. Pelo contrário, continuamos acreditando em velhos sofismas que hoje são defasados, ultrapassados e desmanchados. Ainda acreditamos no nosso senso de autoridade. Ainda nos travestimos de baluartes de verdades absolutas. Ainda procuramos vender o jornalismo como aquilo empurrado e indiscutível. Somos, em nossa rotina, desmentidos pelas nossas barrigadas, desmascarados em nossas opiniões, defenestrados em nossas petulâncias, deflagrados em nossos esconderijos. Nossos erros são mais visíveis. Nossas irresponsabilidades mais apontadas. E, ao invés da autoanálise, a gente admite muito pouco nossas falibilidades. Criamos nossas próprias agendas três vezes, a agenda natural da técnica, a agenda da empresa e a agenda pessoal, conforme nosso conjunto de crenças e valores. E, ao final de tudo, ainda menosprezamos o público: a gente acha que eles não estão vendo nada disso.
Mesmo assim, ainda somos consumidos. Afinal de contas, neste conflito entre a luta pelo poder adquirido, ainda que frágil (jornalista) contra o terreno a ser conquistado por uma nova sensação de poder (audiência), o que sobrou de nós para o público? O que faz um espectador consumir o jornalista/veículo A ao invés do jornalista/veículo B? Esta é uma outra questão, que geraria um outro texto. Assim como, ao invés de lutar pela conquista de um novo espaço, novos profissionais, jovens, ainda se revestem das mesmas arrogâncias demonstradas por jornalistas já consagrados. Também é outro assunto. O que a gente não percebeu é que diariamente nossas proteções vão caindo, uma por uma, como num castelo de cartas construído por nós. Estamos escancarando nossas fragilidades nas redes sociais e, ao invés de fazermos algo para que isso mude, a gente se agarra num galho no meio de uma correnteza, presos numa realidade que uma vez nos ensinaram e a gente acreditou, por comodidade, deslumbramento, ilusão, falta de humildade ou ausência de senso crítico.
Com todas essas características, o público também cria uma nova imagem de nós. Flertando com a sedução das teorias da conspiração, acredita que o jornalista é movido por interesses que sequer chegam ao seu habitué. Justamente por conta do jornalista não admitir seus erros, abrem-se caminhos para as especulações. Esta obsessão pela isenção (falácia), por exemplo, que serve como bengala para falar o que bem entender, desperta ao público um sentimento que é o mais cruel de todos: de que o jornalista está sendo desonesto por interesse próprio. Na verdade, sem a ingenuidade de que não existe desonestidade na nossa profissão, o buraco é outro: a gente ainda acredita pairar num pedestal inatacável, seguro e hermético. Não existe pedestal. Portar-se assim só fará com que este distanciamento entre aquilo que somos e aquilo que o público acha que somos seja cada vez maior. É o descaso que condena. A estupidez, o que destrói.